Entrevistas
Maurício Andrés Ribeiro – Tesouros ambientais da Índia
A Índia ensina a resolver problemas sociais em condições de escassez extrema,

Tesouros ambientais da Índia para o Brasil
Maurício Andrés Ribeiro – ENTREVISTA
O Fórum Social Mundial de 2004 será na Índia. Mais uma boa oportunidade para os brasileiros tomarem conhecimento dos avanços para uma civilização sustentável
|
“A Índia ensina a resolver problemas sociais em condições de escassez extrema, a reduzir desperdícios e a trabalhar eficazmente sem muitos capitais ou recursos financeiros”.
O escritor e ambientalista Maurício Andrés Ribeiro
|
Silvestre Gorgulho, de Brasília
O arquiteto mineiro Maurício Andrés Ribeiro é muito conhecido do mundo ambiental: ecologista, escritor e gestor ambiental com uma característica interessante: é especialista em administrar conflitos. Gosta de ouvir todas as partes, de digerir problemas e tomar decisões de consenso. Em Minas Gerais, Andrés foi secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte (90-92) e presidente da Fundação de Meio Ambiente (95-98). Em Brasília, foi diretor do Programa de Gestão da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (1999), diretor do Conama (2001-2002) e agora é assessor especial da ANA. Autor de “Ecologizar – Pensando o Ambiente Humano”, Maurício Andrés acaba de lançar seu novo livro: “Tesouros da Índia para a Civilização Sustentável”. Vale a pena saber mais sobre o livro e também conhecer mais as experiências e lições que este país tropical pode passar ao nosso “Patropi”. Vamos à entrevista.
Escrever sobre a Índia não é muito comum, no Brasil. Como se iniciou seu interesse por aquele país?
Maurício Andrés – Na década de 70, comecei a me interessar pelas questões ambientais. Trabalhava no Centro Tecnológico, em Belo Horizonte, e candidatei-me, no CNPq, a bolsa de estudo no exterior. Enquanto vários de meus colegas optaram por fazer doutorado na Europa e nos Estados Unidos, escolhi realizar um estudo comparativo Brasil-Índia, no Instituto Indiano de Administração, em Bangalore. Ignacy Sachs, economista que se formara em São Paulo e fez seu doutorado na Índia, me forneceu informações valiosas para aproveitar bem aquela experiência.
Como foi viver e estudar na Índia?
Maurício – São muitos os benefícios de estudar na Índia, em termos de desenvolvimento humano e intelectual, pois vivenciamos uma cultura milenar, com valores distintos dos ocidentais. Além disso, em geral os estudantes brasileiros vivem no exterior de forma modesta, mas na Índia, o custo de vida é baixo e permite bom conforto com poucos recursos. Estabeleci ampla rede de contatos com os quais ainda mantenho relações. O economista dr. Vinod Vyasulu, por exemplo, que foi meu orientador à época, é meu amigo até hoje.
E a situação social da Índia, não impressiona muito os brasileiros?
Maurício – Em geral temos impressões negativas sobre os aspectos sócioeconômicos da Índia. Circula a idéia de que a pobreza é extrema. No entanto, é pouco conhecido o fato de que a Índia tem índices de violência urbana e rural muito mais baixos do que aqueles que ocorrem no Brasil, e tem reduzido gradualmente suas desigualdades. A apropriação pelos indianos mais ricos da riqueza nacional vem decrescendo nas últimas décadas, enquanto os mais pobres têm aumentado a sua participação nessa riqueza, processo inverso ao que ocorreu no Brasil. A Índia ensina a resolver problemas sociais em condições de escassez extrema, a reduzir desperdícios, a trabalhar eficazmente sem muitos capitais ou recursos financeiros. O Fórum Social Mundial, que ocorrerá na Índia em 2004, será uma oportunidade para os brasileiros que lá comparecerem, tomarem conhecimento desses avanços.
Quais são as principais personalidades indianas que merecem destaque?
Maurício – A civilização indiana tem uma quantidade impressionante de pessoas que contribuíram para construí-la ao longo de cinco milênios: no século 20, admiro o poeta Rabindranath Tagore, prêmio Nobel, que tem uma percepção muito clara sobre o papel de sua terra-mãe. Krishnamurti, Vivekananda, Rajneesh, Ramakrishna, Dayananda, e muitos outros mestres também tem um trabalho admirável, que se nutre da Vedanta, o conhecimento das escrituras sagradas, escrita há milhares de anos.
No campo do pensamento e ação política e social, quem se destaca, na Índia?
Maurício – Além do Mahatma Gandhi, que aplicou a não-violência e a satyagraha – experiência com a verdade – na luta pela independência da Índia, me impressiona o trabalho de Sri Aurobindo. Seu pensamento político e social mostra visão prospectiva, lucidez. Muito antes da independência indiana em 1947, ele já a considerava um fato inexorável e passou a trabalhar sobre as questões globais e planetárias. Quando tomei contato com sua obra, em Pondicherry, onde está estabelecida sua comunidade ou ashram, tive a sensação de que seria necessária mais do que uma vida para dominar todo aquele conhecimento. Também existe na Índia uma vasta experiência de ativismo social, para minorar as condições de pobreza e há grandes especialistas nesse campo, como o prêmio Nobel, economista Amartya Sen, e a ativista sócioecológica Vandana Shiva. Satyajit Ray é um cineasta com uma obra admirável. Deepak Chopra e V.S. Naipaul, são escritores indianos atuais, conhecidos no ocidente.
Índia e Brasil no cenário internacional
A Índia tem uma classe média de 200 milhões de
pessoas e níveis educacionais de excelência
Qual a importância da Índia no atual cenário internacional?
Maurício – A Índia tem forte inserção na política mundial por sua peculiaridade histórica. Trata-se de um país que, apesar de ter sido invadido por vários povos, não se deixou destruir nem perdeu seus valores e tradições. Ressalta também a sua posição geográfica privilegiada. As grandes navegações do século 15 e 16 tinham por objetivo descobrir uma rota marítima para as Índias, riquíssima em especiarias e na produção de tecidos e de seda, bens muito valiosos à época. Nos dias atuais, constitui um pólo regional, na Ásia, com forte presença política, demográfica e econômica. A Índia tem uma classe média de 200 milhões de pessoas e níveis educacionais de excelência, o que lhe permite, por exemplo, ser um dos maiores exportadores mundiais de softwares, os quais alimentam a atividade central no século 21 e da era do conhecimento, que é a informática.
E quanto às relações da Índia com o Brasil?
Maurício – Vejo a aproximação consciente do Brasil à Índia como um componente necessário para completar uma construção ainda inacabada e em processo, que é a sociedade brasileira. A Índia é um parceiro valioso ao qual o Brasil poderia se aliar. Muitos brasileiros já têm, por iniciativa própria, procurado estabelecer tais vínculos. Mas esse filão é muito rico, pode trazer muitos benefícios e pode ser explorado de forma mais organizada, institucionalmente, envolvendo governos e empresas. O Brasil é uma nova civilização emergente que poderia ter maior autonomia em relação à órbita da sociedade ocidental insustentável e co-evoluir com a civilização indiana, que soube ser sustentável e que adotou valores humanos como a tolerância e o respeito à diferença. É preciso abrir a agenda de reflexão e ação sobre essa cooperação sul-sul e valorizá-la. Trata-se, ainda, de um tema periférico, sobre o qual se desenvolve muito pouca atenção e pesquisa.
No contexto atual da globalização, a intensificação de relações Brasil-Índia tem alguma importância?
Maurício – O Brasil é uma civilização emergente com muita energia vital. A Índia é ancestral, com um patrimônio acumulado de sabedoria impressionante. O velho e o novo podem se complementar. Aloísio Magalhães, o grande designer brasileiro, dizia que quanto mais se puxa para trás o elástico do estilingue, mais longe a pedra é arremessada. A perspectiva histórica vista a partir de uma civilização milenar pode ajudar a fazer uma prospecção de longo prazo, em direção à sustentabilidade da civilização do século 21. A contribuição de pensadores indianos, como Sri Aurobindo, é fundamental nesse contexto.
Por que estreitar relações com a Índia e como se pode fazer isto?
Maurício – Em primeiro lugar é preciso mudar a percepção e a consciência. Enxergar a existência dessas duas civilizações, numa visão a partir do ângulo sul do planeta, fato que nem sempre é visualizado. Assim, por exemplo, Samuel Huntington, em seu conhecido livro O Choque de Civilizações, não destaca a civilização brasileira, incluindo-a como parte da latino-americana. Isso reflete a falta de percepção de um fenômeno novo, a civilização tropical emergente, já ressaltada por autores como Darcy Ribeiro.
Até mesmo Fritjof Capra, quando fala da ascensão e queda das antigas civilizações e da curva rápida de ascensão e queda da atual era do combustível fóssil, mostra a Grécia e o Egito, mas se esquece da Índia. São percepções a partir do ângulo de visão do norte. Sendo os dois maiores países tropicais do mundo, há muitas similaridades climáticas e ecológicas que facilitam o intercâmbio de espécies animais e vegetais. Há muitas diferenças no processo histórico e cultural de desenvolvimento dessas duas sociedades e nesse fato reside uma potencialidade de fertilização mútua. Na Índia se faz um aproveitamento muito mais integral dos recursos naturais, reduzindo os desperdícios. Isto é fundamental num país como o nosso, que vive um paradoxo: o desperdício de alimentos é tão grande quanto a fome entre os mais pobres…
Dá para dar algum exemplo?
Maurício – Claro. Veja, por exemplo, que o coco da Bahia, que temos em abundância, e que é originário da Índia, tem, em Kerala, estado do sul indiano, todos os seus subprodutos aproveitados e não apenas a polpa ou a água. O mesmo se pode verificar com o rebanho bovino. A tão decantada expressão “vaca sagrada” tem sua razão de ser num fato objetivo: na Índia, aproveita-se tudo do gado vivo, até mesmo as fezes, que servem de combustível para cozinhar… Por que, então, matar a “galinha dos ovos de ouro?”.
A sacralização dos animais tem relação com uma visão de mundo sustentável?
Maurício – Com relação às espécies animais, faz-se na Índia um uso intenso dos animais vivos – para o transporte, o arado e o adubo. As vacas foram sacralizadas e o vegetarianismo é um hábito alimentar com conseqüências positivas do ponto de vista da ecologia energética. Já no Brasil o animal morto é que tem maior valor econômico. Os fazendeiros de gado zebu trouxeram da Índia espécies que se aclimataram muito bem no Brasil, mas que precisam de choque de sangue, para melhorar a sua qualidade, o que é feito pela importação, muitas vezes clandestina, de sêmen bovino. Uma vez encontrei na Índia um juiz de concursos de gado de Uberaba, Sr. Pylades Prata Tibery, já nos seus 80 anos, embrenhando-se no interior do país em busca de matrizes de touros que pudessem fornecer o sêmen necessário para esse choque de sangue.
O senhor quer dizer que o Brasil pode aprender muito com a Índia?
Maurício – Sim, é isso. Penso que o Brasil pode aprender com a Índia a aproveitar mais integralmente os recursos naturais, a implantar políticas que reduzam as desigualdades sem sacrificar a liberdade, a reduzir a violência e a criminalidade por meio do desenvolvimento de valores espirituais, a valorizar mais seus bens, hábitos e tradições culturais.
Em que pontos essa aproximação pode beneficiar a política ambiental?
Maurício – Essa aproximação pode ensinar sobre a reverência, o cuidado e o respeito para com a natureza e os valores humanos desenvolvidos na civilização indiana, que facilitaram com que ela perdurasse durante milênios de história, com baixa degradação ambiental. A sociedade contemporânea e especialmente o Brasil, precisam desenvolver valores que ultrapassem o mercantilismo, a coisificação da natureza e sua transformação predatória em mercadoria. Na Índia, podemos buscar modelo alternativo para fazer mais com menos recursos. Com um bilhão de pessoas e muita pobreza, existe na Índia um conhecimento de como viver com pouco capital e o desenvolvimento de práticas, de experiências e de conhecimento que constitui uma riqueza cultural, civilizatória. Além da mudança de percepção e consciência, é necessário traduzi-las em palavras e em ações. Tomar iniciativas – individuais e coletivas – no campo da cultura, artes, filosofia, também no campo comercial, científico e tecnológico. A intensificação dessas relações pode ser induzida e impulsionada de forma consciente.
“Quem perdeu a paciência,
perdeu a batalha”
Pode-se dizer que a Índia é uma civilização sustentável?
Maurício – O conceito de dharma, que é essencial para compreender a Índia, tem raiz no sânscrito e significa sustentar, manter. Esse é um conceito instigante, com muitos significados, pouco conhecido no ocidente e faz parte de uma matriz cultural diferente. A dharmacracia seria a forma de governo baseada na aplicação do dharma, e difere da democracia de direitos que se persegue nos regimes políticos ocidentais mais abertos. Direitos e deveres são conceitos ocidentais e realizar um esforço de compreensão transcultural é uma das tarefas para promover real aproximação.
O pensamento prospectivo e livre desenvolvido naquela sociedade pode oferecer pistas para superar e transcender os impasses civilizatórios contemporâneos, que nos levam a guerras e destruições. Baseada no seu dharma, aquela civilização soube sustentar-se por milênios e pode oferecer contribuições valiosas para um mundo que enfrenta alguns impasses da viabilidade da sobrevivência de nossa espécie. Seu lema é a Unidade na Diversidade, pois é um país extremamente variado culturalmente. Seu símbolo é a flor de lótus, pura e bela nascendo do lodo. A relação com o tempo é diferente da nossa e um ensinamento achado na rua dizia que “quem perdeu a paciência, perdeu a batalha”. Paciência, neste sentido, é a ciência da paz.
Por que o seu novo livro se intitula Tesouros da Índia?
Maurício – Aquela civilização desenvolveu uma filosofia e estilos de vida amigáveis e pouco agressivos em relação à natureza. Essa sabedoria é um tesouro valioso para o mundo contemporâneo ameaçado de tornar-se insustentável pela falta de tais valores e dos correspondentes estilos de vida. A Índia desenvolveu a inteligência espiritual.
Por que o senhor diz, no livro, que a Índia pratica a inteligência espiritual?
Maurício – Hoje, além do quociente intelectual (QI) e da inteligência intelectual, estudam-se vários tipos de inteligência, como, por exemplo, a inteligência emocional. A inteligência espiritual é um tipo de inteligência que faz uso não só das capacidades racionais, mas também das capacidades intuitivas, emocionais, da sensibilidade.
Entre os sinais de inteligência espiritual estão o elevado grau de auto-conhecimento, a independência e autonomia para seguir as próprias idéias, flexibilidade, a relutância em causar danos aos outros, a capacidade de enfrentar a dor e de aprender com o sofrimento, de se inspirar em ideais elevados, de aplicar princípios espirituais no dia-a-dia, de estabelecer conexões entre realidades distintas. É a inteligência espiritual que ajuda a encontrar sentido na vida, paz e tranqüilidade. A Índia foi a sociedade que mais desenvolveu a inteligência espiritual, que constitui um patrimônio de valor inestimável para a sobrevivência e evolução da espécie humana.
Como foi o método de trabalho para elaborar o livro Tesouros da Índia?
Maurício – Na primeira parte do livro procuro traçar um retrato aberto da Índia. Na segunda parte, desenvolvi o estudo comparativo. Procurei trabalhar no nível micro, de uma aldeia e um município, considerando-os como células básicas de suas sociedades. Foi como trabalhar numa célula, cujo DNA contém elementos do todo do organismo ao qual pertence. Complementarmente, trabalhei as possibilidades de intercâmbio na escala nacional e, em termos futuristas, quais as convergências necessárias na escala global.
Quais as semelhanças entre a sua obra anterior, o livro Ecologizar, e os Tesouros da Índia?
Maurício – Ambos foram escritos a partir de vivências práticas, do trabalho cotidiano, de imersão cultural e estudos de campo, aliados a reflexões teóricas, leituras… Ecologizar foi um livro escrito para facilitar a ação ecológica, organizando princípios, métodos e instrumentos de ação de forma clara, para facilitar seu uso e aplicação por quem se interesse em ecologizar a sociedade ou sua própria vida. Tesouros da Índia procura organizar conhecimentos que facilitem àqueles que se interessem em estabelecer tais vínculos e em explorar o desconhecido de outros universos civilizatórios. Uma mesma energia os move: procurar organizar uma visão de mundo que dê maior efetividade à ação prática ecologizadora, seja individual ou coletiva.
Como Tesouros da Índia se encaixa na proposta de ecologizar a sociedade?
Maurício – Ecologizar a sociedade é mudar a matriz cultural e de valores, mudar a qualidade da energia que impulsiona as ações individuais ou sociais, num sentido de maior integração e menor agressividade ou destrutividade em relação ao ambiente e também entre as pessoas. Garimpar e trazer à luz os tesouros culturais de uma civilização que perdurou por milênios é uma das formas de facilitar e impulsionar essa ecologização da sociedade brasileira. As guerras envolvendo o ocidente e o oriente, o novo governo brasileiro com uma postura de inserção internacional mais ativa, a perspectiva de realização do Fórum Social Mundial na Índia em 2004, são alguns fatores conjunturais que tornam oportuna a expressão de tais idéias e a proposição de novas ações de intercâmbio.
O que o senhor espera que sejam os benefícios desse novo trabalho?
Maurício – Esse trabalho é um pequeno componente na construção de uma ponte entre duas culturas e civilizações ainda bastante isoladas entre si e que têm potencialmente muito a se beneficiar da cooperação e do intercâmbio. Ao mesmo tempo, ele procura ter uma visão propositiva de uma terceira geração de instituições internacionais, que substituam as de segunda geração (a ONU), que por sua vez substituiu as de primeira geração (a Liga das Nações). Esse é o tema tratado na terceira parte do livro.
A terceira parte do livro fala de cenários para o futuro. Como o senhor os vê?
Maurício – A terceira parte do livro trata de uma visão futurista, baseada no federalismo mundial, na necessidade de evolução política da humanidade. A matriz da civilização ocidental que dominou o século 20 não é sustentável a longo prazo, porque se baseia na exploração sem limites de recursos materiais e energéticos, e porque precisou dominar pela força e colonizar outros territórios, sugando e parasitando seus recursos.
A dominação pela força e pela violência não é sustentável, produz ressentimentos, ódios, sede de vingança pelas mortes e sofrimento. A partir de um certo momento, os novos problemas e questões não podem mais ser resolvidos por estruturas e concepções políticas e filosóficas que se adequavam a situações anteriores. É preciso, a partir da idéia de repensar as instituições globais, e de promover aprimoramentos incrementais numa estrutura, substituí-la por outra com arquitetura mais adequada. Esse é o ponto de partida para conceber e construir instituições internacionais de terceira geração. Já existem exercícios de formular o futuro em laboratórios de pensamento político e um deles – aliás, dos mais interessantes – consiste numa minuta de Constituição para a Federação do planeta Terra, elaborada por movimentos não-governamentais que se interessam pelo Federalismo Mundial.
A globalização exige uma Constituição Planetária
A dominação pela força e pela violência não é sustentável, pois produz
ressentimentos, ódios, sede de vingança pelas mortes e sofrimentos
Quais são as principais características dessa Constituição Planetária?
Maurício – A Constituição Planetária é um exercício de imaginar e projetar em escala mundial o que será essa arquitetura política global. Antes de construir uma nova cidade ou edificação, é sempre bom ter um projeto claro, para evitar custos e para proporcionar ao final maior funcionalidade e beleza.
Há um exemplo histórico disso na elaboração da Constituição dos Estados Unidos. Quando as treze colônias norte-americanas se tornaram independentes da Inglaterra, precisaram elaborar uma constituição comum. As discussões eram difíceis, até que o representante de uma delas, Charles Pinckney, da Carolina do Sul, trouxe uma minuta de proposta de Constituição. A partir daí ela se tornou a referência e catalisou as demais propostas, resultando então no que veio a ser a Constituição dos Estados Unidos.
Isso é o que se propõe com a Constituição Planetária: um exercício de liberdade de imaginação e pensamento, que explore a possibilidade de novos modelos políticos e jurídicos e de organização institucional mundial. Por enquanto, esse exercício não teve apoio de qualquer governo e é visto com desconfiança por eles, porque significa uma mudança de paradigma em relação aos estados-nação, mas tem a simpatia de organizações da sociedade civil mundial que praticam a ação global.
Entre os dispositivos centrais dessa Constituição estão a criação de uma agência para a prevenção das guerras e o desarmamento, bem como a criação de uma Câmara dos Povos ao lado da Câmara das Nações, que corresponde ao atual plenário da ONU, no qual as Nações Unidas são representadas formalmente pelos governos nacionais.
Hoje, tornou-se necessária uma instituição dos povos unidos, com representação mais forte da sociedade civil, se quisermos de fato trabalhar por um futuro com redução dos riscos de guerras e com maior sustentabilidade.
O LIVRO
 O livro é estruturado em três partes. Na primeira, é traçado um retrato aberto e plural da Índia, destacando-se aspectos ligados à cultura e ao meio ambiente. Na segunda parte o autor faz uma analise comparativa entre o Brasil e a Índia, que são os dois maiores países tropicais do mundo e que apresentam muitos pontos de afinidades, a começar pelas climáticas e ecológicas. Na terceira parte, baseado na reflexão e na visão prospectiva de pensadores e filósofos indianos exploram-se possibilidades para a aplicação do princípio da unidade na diversidade em escala planetária, dentro de uma visão de ecologia política.
O livro é estruturado em três partes. Na primeira, é traçado um retrato aberto e plural da Índia, destacando-se aspectos ligados à cultura e ao meio ambiente. Na segunda parte o autor faz uma analise comparativa entre o Brasil e a Índia, que são os dois maiores países tropicais do mundo e que apresentam muitos pontos de afinidades, a começar pelas climáticas e ecológicas. Na terceira parte, baseado na reflexão e na visão prospectiva de pensadores e filósofos indianos exploram-se possibilidades para a aplicação do princípio da unidade na diversidade em escala planetária, dentro de uma visão de ecologia política.
“Tesouros da Índia para a civilização sustentável” é um livro dedicado a todas as pessoas que constroem pontes para facilitar o entendimento entre as diferentes civilizações.
Mais informações:
Santa Rosa Bureau Cultural, BH-MG – 244 páginas
www.ecologizar.com.br – mandrib@uol.com.br
Entrevistas
CUBATÃO: Entrevista com Celma do Carmo de Souza Pinto
Em entrevista à Folha do Meio, Celma do Carmo de Souza Pinto fala sobre a paisagem de Cubatão e a história de uma cidade estigmatizada pela poluição.

Historiadora, pesquisadora, Doutora em Teoria, História e Crítica, pela Universidade de Brasília, Celma de Souza Pinto é profunda conhecedora da realidade do patrimônio industrial e da paisagem cultural brasileira. Celma do Souza é autora de três livros sobre a memória da industrialização na Baixada Santista: “Anilinas” – “Meu lugar no mundo: Cubatão” – “Cubatão, história de uma cidade industrial” e uma dissertação de mestrado “A construção da paisagem industrial de Cubatão – o caso da Companhia Fabril e da Usina Henry Borden”. É ex-servidora da Prefeitura Municipal de Cubatão e trabalhou por mais de 10 anos no IPHAN Sede, em Brasília. Atualmente dirige o Instituto Base no desenvolvimento de projetos culturais. Para Celma de Souza, mais do que resgatar a impactante história do desenvolvimento industrial de Cubatão é abrir possibilidades para novos olhares sobre a paisagem do município.
CELMA DO CARMO DE SOUZA PINTO – ENTREVISTA

“Somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem de Cubatão como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, de projetos educacionais, de lazer e da percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens”.
FOLHA DO MEIO – Cubatão era símbolo de poluição. Cidade estigmatizado pela poluição e com um dos maiores parques industriais do Brasil. Qual a relação com as paisagens culturais?
CELMA – Cubatão está inserido em um território com as marcas de eventos históricos desde o início da ocupação portuguesa pela sua localização entre o litoral e o Planalto Paulista. A partir de princípios de fins do século XIX, o município testemunha a evolução técnica e tecnológica do País, em suas obras de infraestrutura viária fabris e industriais. Isso somado, é claro, ao ambiente natural no qual se destacam a Serra do Mar, a Mata Atlântica e os manguezais típicos da região costeira. Por isso, Cubatão, além de ter um dos maiores parques industriais do Brasil abriga monumentos históricos como a Calçada do Lorena, o Caminho do Mar, antigos testemunhos fabris, de infraestrutura e várias reservas ambientais como o Parque Estadual da Serra do Mar. Todos esses elementos compõem e influenciam, direta ou indiretamente, a vida dos moradores do município, configurando uma paisagem cultural.
FMA – Sim, a paisagem é emblemática, o esforço de despoluição foi grande, mas Cubatão já tem esse reconhecimento?
CELMA – Verdade, a paisagem de Cubatão é uma das mais emblemáticas do Brasil pela imbricação de todos esses elementos somados aos problemas ambientais que manteve a atenção. Mas ainda não tem o reconhecimento que merece no âmbito cultural. Minha pesquisa “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.

Celma de Souza Pinto: Paisagem industrial em Cubatão-SP: o caso da companhia fabril e da usina Henry Borden.
FMA – Mas, você poderia explicar melhor o que é uma paisagem cultural?
CELMA – O termo advém da geografia a partir da evolução dos estudos e da compreensão da noção de paisagem, que remonta ao século XIV no Ocidente. A Unesco, em 1994, inseriu a categoria de paisagem cultural em sua relação de bens culturais passíveis de serem declarados como Patrimônio Mundial. Paisagens culturais são as que foram afetadas, construídas ou resultantes do desenvolvimento humano e da sua ação e relação com a natureza. Como atualmente todo o planeta, e até o espaço sideral, é marcado pela ação humana, as paisagens culturais têm uma variedade muito grande. Tanto podem abarcar grandes territórios, quanto pequenas parcelas territoriais, como áreas industriais, locais de notável beleza, fazendas, jardins e outros. Isso abriu possibilidade para o reconhecimento e valorização também das paisagens industriais, como a de Cubatão, no campo do patrimônio cultural.
FMA – Quais os critérios para reconhecimento de uma paisagem cultural?
CELMA – Os critérios de reconhecimento de uma paisagem cultural variam conforme são estabelecidos pelos documentos de cada país, ou como definidos pela Unesco. No Brasil, por exemplo, a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, estabelecida pela Portaria IPHAN nº 127/2009, define a paisagem como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”. Busca abranger a diversidade de lugares, costumes e paisagens brasileiras. O reconhecimento de uma paisagem cultural perpassa primeiro o Espaço, as pessoas que nele vivem ou interage.
FMA – Paisagem cultural é aquela constituída a partir da interferência humana na natureza…
CELMA – Sim, é o lugar onde se vive, o meio que reflete a interação entre as pessoas e a natureza. É o legado das culturas com o mundo natural, com o tempo: com os eventos do passado, a fruição do presente e as expectativas para o futuro, entre outros. As paisagens culturais são uma narrativa de expressões culturais e de identidade regional para grupos sociais, para comunidades e para a coletividade.
FMA – Então, qual a importância da paisagem de Cubatão?
CELMA – Aí que vamos chegar. A paisagem de Cubatão se distingue pelo forte caráter histórico, pela associação com o movimento de ocupação portuguesa desde o século XVII e pela vinculação ao processo industrial e de desenvolvimento técnico paulista e do Brasil, expresso nas vias de transporte já existentes antes da chegada do europeu e das construídas ao longo do tempo. Mas também ostenta um capítulo importante da história ambiental e do operariado brasileiro cuja memória está se perdendo e é parte fundamental da construção da paisagem que não se dá somente no município de Cubatão, mas em outros municípios da Baixada Santista, como Santos. Enfim, é uma região que ostenta uma paisagem plena de história e, ao mesmo tempo, dotada de uma beleza natural, cênica, ecológica, educacional, contemplativa, de lazer… em suma, um incomparável patrimônio cultural a ser conhecido, divulgado e desfrutado.
FMA – Com toda essa importância, por que pouco se fala da paisagem cultural de Cubatão?
CELMA – Não é bem assim. Na verdade, desde a década de 1980, muito se tem falado de Cubatão e da sua paisagem. Sobretudo quando houve uma massiva divulgação na mídia sobre os altos índices de poluição industrial. A partir de 1950, após a construção da Refinaria Presidente Bernardes, até a década de 1970, Cubatão recebeu mais de vinte indústrias de base na área da petroquímica e siderurgia, tornando-se um dos mais importantes complexos industriais do País. Como o Brasil ainda não dispunha de uma legislação ambiental, as indústrias foram instaladas sem o devido cuidado com emissão de poluentes no ar, na água e no solo. Tais consequências nefastas ao meio ambiente e à saúde humana, valeram à cidade a alcunha de Vale da Morte. Mesmo com o trabalho bem-sucedido da Cetesb no controle da poluição ambiental, a imagem negativa de Cubatão ficou no imaginário. Não queremos que essa história seja esquecida, apenas mostrar outros aspectos.
FMA – Como é a atual relação dos moradores de Cubatão com a chamada paisagem cultural?
CELMA – Boa questão. Em entrevistas que fiz com moradores de Cubatão, ficou evidente que consideram a paisagem como seu patrimônio cultural. Demonstraram também inquietação com a preservação dos testemunhos da industrialização e da infraestrutura. Eles se preocupam com a natureza, a Serra do Mar, que constitui o envoltório cênico que emoldura a cidade e é o elemento visual mais relevante da região. Mas eles se afligem com o descaso pelos remanescentes de antigas fábricas, pelos antigos caminhos e pela ferrovia. Também evidenciaram que, apesar da carência de políticas de preservação, educacionais, de lazer, entre outros, existe uma relação de identidade com a paisagem local e uma consciência sobre a necessidade de preservação dos testemunhos materiais remanescentes.
FMA – Por que é importante o reconhecimento dessa paisagem?
CELMA – Primeiro, porque somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, projetos educacionais, lazer e percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens. Nesse sentido, pode contribuir para que a cidade se torne mais humanizada com melhoria na qualidade de vida, proporcionando um sentido de lugar e de identidade às gerações futuras, assim como propiciar à comunidade uma melhor compreensão sobre o lugar onde vivem e a como buscar uma maior fruição dos testemunhos arquitetônicos e bens tombados da região. Além de possibilitar a novas atividades econômicas ligadas ao potencial histórico e paisagístico que insira a população local.
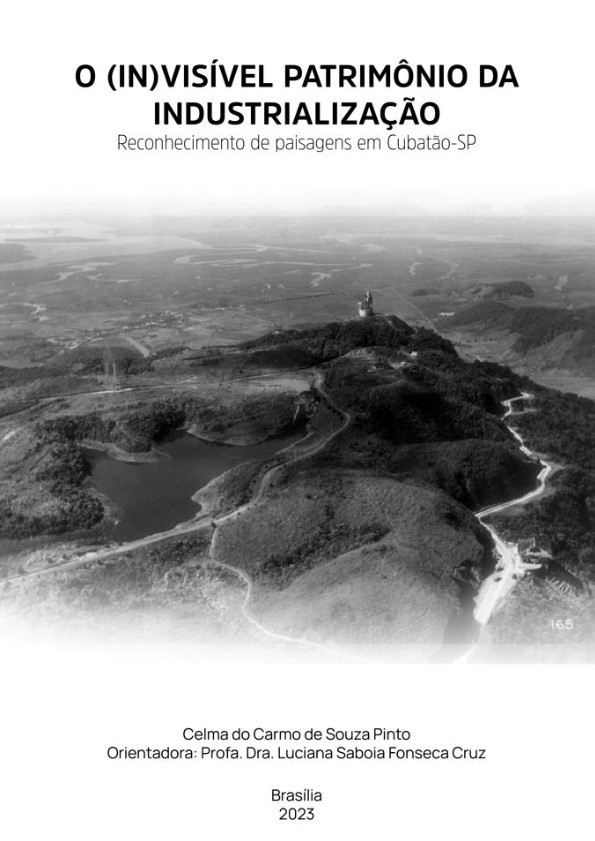
A pesquisa de Celma do Carmo, “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.
FMA – Como preservar os elementos arquitetônicos e outros que tornam essa paisagem tão importante?
CELMA – Para isso é imprescindível a atuação séria e isenta dos órgãos de preservação locais e estadual. A preservação do patrimônio cultural exige uma ação conjunta da população com o governo municipal não só no âmbito do patrimônio, mas também para desenvolvimento de projetos de valorização, reabilitação, revitalização ou mesmo requalificação urbana de sítios de valor histórico reconhecidos pela população, como por exemplo, a orla do rio Cubatão, que atravessa a cidade. Ou com a recuperação de locais degradados que remontam à história ferroviária na região. A paisagem pode ser também um meio para criação de mecanismos de reparação que pode incluir também a preservação da memória do trabalhador e fortalecimento da identidade local como museus, centros culturais, projetos educativos, enfim…
FMA – Fico imaginando o tamanho desse desafio: Cubatão está entre o maior complexo industrial do Brasil e o maior porto do Brasil?
CELMA – E põe desafio nisso. De fato, como Cubatão situa-se entre um complexo industrial e o Porto de Santos gera um desafio que é conciliar as necessidades de modernização desses setores com as aspirações da população, que almeja o indispensável respeito ao patrimônio cultural e à história. As paisagens estão em constante transformação. Quando relacionadas à indústria isso fica ainda mais evidente, pois a principal característica da indústria é o dinamismo por processos de mudança no modo de produção, de estruturação econômica, entre outros. Por isso é urgente a revisão do atual modelo de desenvolvimento excludente e pautado em projetos que atendem somente às necessidades industriais e portuárias, sem considerar os interesses dos moradores. Não é possível manter o conceito de desenvolvimento da década de 1950 no qual somente a ampliação industrial irá trazer benefícios para a cidade.
FMA – Mas o IDH de Cubatão é bem alto…
CELMA – É verdade. O IDH de Cubatão é bem alto, se comparado aos outros municípios da Baixada Santista. No entanto, os moradores não estão imunes aos mesmos problemas de seus vizinhos, cujo IDH e arrecadação tributária é perceptivelmente inferior. Donde se vê que o desenvolvimento e o progresso alardeados pela industrialização não se concretizaram. Então, fica claro que ali os efeitos negativos da industrialização se fazem sentir de modo muito mais adverso do que os benefícios.
A superação desses desafios exige, dentre outros, mecanismos de reconhecimento da paisagem, de forma conjunta com as propostas de gestão compartilhada, com apoio de todos os setores envolvidos e do poder público. Sem isso, é possível que em poucos anos a cidade de Cubatão desapareça como local de vida e convivência humana, vindo a se tornar um mero depósito de contêineres ou um grande pátio de estacionamento de caminhões. Não podemos esquecer que ali vivem pessoas.
Entrevistas
John Elkington: A Vanguarda da Sustentabilidade Empresarial e Global
Explorando a Vida e o Legado do Arquiteto da Tripla Linha de Base e Defensor Incansável da Responsabilidade Corporativa

Na arena global da sustentabilidade, poucos nomes ressoam com a mesma reverência que o de John Elkington. Conhecido como o arquiteto da “Tripla Linha de Base”, Elkington emergiu como um pioneiro na integração de preocupações ambientais, sociais e financeiras no mundo dos negócios. Sua jornada como defensor incansável de práticas sustentáveis e responsáveis é um testemunho vivo de sua influência e impacto duradouro.
As Raízes da Visão de Elkington
Nascido com uma consciência intrínseca do poder transformador da sustentabilidade, John Elkington começou sua jornada na Universidade de Londres, onde se formou em Economia e Estudos de Engenharia. Desde o início, seu interesse abrangente pelas interseções entre o mundo dos negócios e as questões ambientais e sociais o levou a explorar novos paradigmas de desenvolvimento econômico que priorizassem não apenas o lucro, mas também o bem-estar coletivo.
A Tripla Linha de Base e Seu Legado Duradouro
É inegável que o maior legado de John Elkington é a popularização do conceito de “Tripla Linha de Base”. Sua inovadora abordagem de avaliação de desempenho empresarial não apenas com base em lucros financeiros, mas também em impactos ambientais e sociais, foi revolucionária. Essa estrutura conceitual permitiu que as empresas repensassem suas práticas e redefinissem o sucesso empresarial, levando em consideração não apenas os resultados financeiros, mas também o impacto em comunidades e ecossistemas.
O Compromisso Contínuo com a Mudança Sistêmica
Além de suas contribuições teóricas, Elkington é conhecido por seu compromisso contínuo com a mudança sistêmica. Ele trabalhou incansavelmente para influenciar políticas e práticas corporativas, promovendo a sustentabilidade como um imperativo central para o crescimento econômico e o bem-estar social. Sua atuação como autor prolífico e palestrante renomado ampliou ainda mais o alcance de suas ideias e inspirou uma geração de líderes a repensar o papel das empresas na sociedade.
O Legado Duradouro e o Caminho à Frente
À medida que o mundo enfrenta desafios cada vez mais complexos, o legado de Elkington permanece como um farol de esperança e um lembrete constante de que a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente. Sua visão e dedicação incansável continuam a orientar não apenas empresas, mas também formuladores de políticas e defensores da sustentabilidade em direção a um futuro mais equitativo e próspero.
John Elkington personifica a noção de que a sustentabilidade não é apenas um conceito acadêmico, mas uma filosofia de vida e uma abordagem essencial para moldar um mundo mais resiliente e sustentável. Sua jornada continua a inspirar e a moldar a narrativa global da responsabilidade empresarial e do ativismo sustentável.
Entrevista
John Elkington: Bem, ao longo das últimas décadas, testemunhamos um crescente reconhecimento da importância da sustentabilidade, tanto a nível empresarial quanto global. As empresas estão percebendo que devem abordar não apenas suas operações, mas também sua cadeia de suprimentos e impacto social. Vemos um movimento contínuo em direção a práticas mais responsáveis e transparentes, mas ainda há muito trabalho a ser feito.
Com certeza. Quais são os principais desafios que você identifica atualmente em termos de implementação de práticas sustentáveis em larga escala?
John Elkington: Um dos principais desafios é a integração da sustentabilidade no cerne dos modelos de negócios. Muitas empresas ainda veem a sustentabilidade como uma iniciativa isolada, em vez de uma parte fundamental de sua estratégia. Além disso, a falta de regulamentações e políticas sólidas em muitas partes do mundo dificulta a adoção generalizada de práticas sustentáveis. Também é fundamental envolver os consumidores e criar uma demanda por produtos e serviços mais sustentáveis.
Concordo plenamente. Considerando o cenário atual, como você visualiza a importância da inovação e da tecnologia na promoção da sustentabilidade?
John Elkington: A inovação e a tecnologia desempenham um papel crucial na transição para práticas mais sustentáveis. Novas tecnologias podem aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e permitir o uso mais inteligente dos recursos. Da energia renovável aos avanços na agricultura sustentável e na gestão de resíduos, a tecnologia tem o potencial de impulsionar mudanças positivas significativas. No entanto, é importante garantir que essas inovações sejam acessíveis e amplamente adotadas, especialmente em comunidades com recursos limitados.
Definitivamente. Quais conselhos você daria para os líderes empresariais e os formuladores de políticas que desejam impulsionar práticas mais sustentáveis?
John Elkington: Para os líderes empresariais, eu enfatizaria a importância de incorporar a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, desde a concepção do produto até o descarte responsável. Isso não apenas beneficia o planeta, mas também pode gerar eficiências operacionais e melhorar a reputação da marca. Para os formuladores de políticas, é fundamental criar um ambiente regulatório favorável e incentivar a inovação e o investimento em práticas sustentáveis. Além disso, é crucial promover a conscientização e a educação sobre a importância da sustentabilidade em todas as esferas da sociedade.
Entrevistas
Kátia Queiroz Fenyves fala a respeito de sustentabilidade e meio ambiente

Kátia Fenyves é Mestre em Políticas Públicas e Governança pela Sciences Po Paris e formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou experiências em cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável no terceiro setor e na filantropia. Atualmente é Gerente do Programa de Finanças Verdes da Missão Diplomática do Reino Unido no Brasil.
1. Você estudou e tem trabalhado com a questão de sustentabilidade e o meio ambiente. Pode nos falar um pouco a respeito desses temas?
Meio ambiente é um tema basilar. Toda a vida do planeta depende de seu equilíbrio. A economia, da mesma forma, só se sustenta a partir dos recursos naturais e de como são utilizados. Sustentabilidade, portanto, foi o conceito que integrou as considerações aos aspectos ambientais, sociais e econômicos, revelando de forma mais sistêmica esta inter-relação e, sobretudo, colocando o meio ambiente como eixo estratégico do desenvolvimento, para além de seu valor intrínseco.
2. Quando se fala em sustentabilidade, pensa-se no tripé social, ambiental e econômico. Como você definiria esses princípios? Qual deles merece maior atenção, ou todos são interligados e afetam nossa qualidade de vida integralmente?
Exatamente, sustentabilidade é o conceito que revela as interligações entre os três pilares – social, ambiental e econômico e, portanto, são princípios interdependentes e insuficientes se tomados individualmente. Talvez, o ambiental seja realmente o único que escapa a isso. A natureza não depende da economia ou da sociedade para subsistir, mas, por outro lado, é impactada por ambos. Por isso, sustentabilidade é um conceito antrópico, ou seja, é uma noção que tem como referencial a presença humana no planeta.
3. Questões relacionadas à sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente são discutidas nas escolas e universidades?
Há entre as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, que são normas obrigatórias, as específicas para Educação Ambiental que devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior a partir da Política Nacional de Educação Ambiental. Estas contemplam todos os temas citados na pergunta. Não sou especialista na área então é mais difícil avaliar a implementação, mas em termos de marco institucional o Brasil está bem posicionado.
4. Quando se fala em preservação do meio ambiente, pensa-se também nos modelos de descarte que causam tantos danos ao meio ambiente. Existe alguma política de incentivo ao descarte consciente?
Mais uma vez, o Brasil tem um marco legal bastante consistente para o incentivo ao descarte consciente que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que é inclusive uma referência internacionalmente. Na verdade, mais que um incentivo ela é um desincentivo ao descarte inconsciente por meio do estabelecimento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. Isso significa que a PNRS obriga as empresas a aceitarem o retorno de seus produtos descartados, além de as responsabilizar pelo destino ambientalmente adequado destes. A inovação fica sobretudo na inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis tanto na logística reversa como na coleta seletiva, algo essencial para um país com nosso contexto social.
5. Você acha que os modelos de descarte atuais serão substituídos por novos modelos no pós-pandemia? O que fazer, por exemplo, para incentivar as pessoas a descartar de forma consciente as máscaras antivírus?
Sempre é preciso se repensar e certamente a pandemia deu destaque a certas fragilidades da implementação da PNRS. Grande parte dos hospitais brasileiros ainda não praticam efetivamente a separação e adequada destinação de seus resíduos e, na pandemia, este problema é agravado tanto pela maior quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados como por uma maior quantidade de geradores, uma vez que a população também começa a produzir este tipo de resíduo em escala. Falta ainda muita circulação da informação, então talvez este seja o primeiro passo: uma campanha de conscientização séria que jogue luz nesta questão.
6. Na sua opinião, o mundo está mais consciente das necessidades de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais para que gerações futuras possam deles usufruir?
Acredito que tenhamos passado do ponto em que estas necessidades de preservação eram uma questão de consciência e chegamos a um patamar de sobrevivência. Também não se trata apenas das gerações futuras, já estamos sofrendo as consequências do desequilíbrio ambiental provocado pela ação humana e do esgotamento dos recursos naturais desde já. A própria pandemia é resultado de relações danosas entre o ser humano e o meio ambiente e os conflitos por fontes de água, por exemplo, são uma realidade.
7. Quais as ações que mais comprometem e degradam o meio ambiente?
Nosso modelo produtivo e de consumo como um todo é baseado em uma relação predatória com o meio ambiente: retiramos mais do que necessitamos, sem respeitar os ciclos naturais de reposição e, além disso, quando descartamos os resíduos e rejeitos não cumprimos com os padrões adequados estabelecidos. Já temos conhecimento suficiente para evitar grande parte dos problemas, mas ainda não conseguimos integrá-lo nas nossas práticas efetiva e definitivamente.
8. O que na sua opinião precisa ser feito para que as sociedades conheçam mais a respeito de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente?
Acredito que para avançarmos como sociedade precisamos tratar a questão das desigualdades socioeconômicas que estão intrinsicamente relacionadas a desigualdades ambientais, inclusive no que diz respeito às informações, ao conhecimento. A educação é, portanto, um componente estratégico para este avanço, mas é preciso ter um entendimento amplo que traga também os saberes tradicionais para esta equação. Além disso é preciso cada dia mais abordar o tema da perspectiva das oportunidades, pois a transição para modos de vida mais sustentáveis, que preservam o meio ambiente e que se baseiem em consumo conscientes alavancam inúmeras delas; por exemplo, um maior potencial de geração de empregos de qualidade e menos gastos com saúde.
9. A questão climática está relacionada com a sustentabilidade? Como?
A mudança do clima intensificada pela ação antrópica tem relação com nossos padrões de produção e consumo em desequilíbrio com o meio ambiente: por um lado, vimos emitindo uma quantidade de gases de efeito estufa muito significativa e, por outro, vimos degradando ecossistemas que absorvem estes gases, diminuindo a capacidade natural do planeta de equilibrar as emissões. Assim, a questão climática está relacionada com um modo de vida insustentável. A notícia boa é que práticas sustentáveis geram diretamente um impacto positivo no equilíbrio climático do planeta. Por exemplo, o Brasil tem potencial para gerar mais de 25 mil gigawatts em energia solar, aproveitando sua excelente localização geográfica com abundância de luz solar, uma medida sustentável que, ao mesmo tempo, é considerada uma das melhores alternativas para a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera, que é um dos principais gases intensificadores do efeito estufa.
-

 Reportagens4 meses ago
Reportagens4 meses agoProjeto Comunicador do Futuro oferece cursos de comunicação e audiovisual
-

 Reportagens3 meses ago
Reportagens3 meses agoGDF projeta mais quatro hospitais e 17 UBSs até 2026
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoO MITO QUE VIROU LENDA
-

 Reportagens4 meses ago
Reportagens4 meses agoDetran-DF realizará leilão de veículos e sucatas
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoLa Boulangerie em Brasília: A Doce Jornada do Padeiro Francês
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoMau Tempo Paralisa Aeroporto de Brasília, que Opera por Instrumentos
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoELISEU ROBERTO DE ANDRADE ALVES
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoA mensagem de Natal de JK

