Entrevistas
Marcos Aurélio de Freitas – Entrevista sobre a água e eventos extremos
Eventos críticos: a água é causa de 90% das mortes no mundo
A água é causa de 90% das mortes no mundo
Os fenômenos naturais, ou eventos críticos, matam 80% pelas enchentes e 10% pelas secas
 Marcos Freitas: existe a responsabilidade da Defesa Civil, tratar da emergência, e a responsabilidade dos órgãos nacionais, tratar das previsões hidrológicas |
Silvestre Gorgulho e Milano Lopes, de Brasília
Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas (41) é muito jovem para todos os títulos que tem. Além de Mestre em Ciências e Engenharia Nuclear e Planejamento Energético e doutor em Ciências e Economia do Meio Ambiente. Foi superintendente de Estudos e Informações Hidrológicas da Aneel e é membro do Conselho Coordenador do Projeto de Hidrologia da Bacia Amazônica. Formado em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Marcos obteve especialização de DEA (Diplome d’Études Approfondies) em Economia, Meio Ambiente e Sociedades na EHESS, na França. Foi pesquisador e professor em Energia e Meio Ambiente da Coppe/UFRJ. Atuou como pesquisador associado do Centre International de Recherches sur Environnement et éveloppement, no CIRED, na França. Exerceu o cargo de secretário-executivo adjunto da Matriz Energética na Secretaria de Ciência e Tecnologia do governo do Rio de Janeiro e, entre 1996 e 1997, foi secretário-executivo do Centro Nacional de Referência em Biomassa e diretor da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Desde a criação da ANA, é diretor da Área de Tecnologia e Informação. Nesta entrevista Marcos Freitas fala da água como recurso natural que provoca 90% das mortes no mundo (enchentes e secas), pede uma regulação sobre o uso da água no Brasil e muito mais. Vale a pena conferir:
O que significa eventos críticos, tema escolhido este ano pela ONU para comemorar o Dia Mundial da Água?
Marcos Freitas – Em água existe um provérbio: “nem tanto e nem tão pouco”. Não se deseja ter excesso nem falta. Isso é o que se chama eventos críticos. Não ultrapassar aquilo que as populações humanas podem consumir.
No mundo, cerca de 90% das mortes com fenômenos naturais são relacionadas com água. Esse é um dado que é muito importante conhecer. Desses 90%, pelo menos 80% são mortes provocadas pelas cheias, e os 10% restantes pelas secas. Portanto, o fenômeno natural que mais mata pessoas é a cheia. Isso não quer dizer que a seca também não mate muito.
O problema é que, na seca, as pessoas têm tempo de se livrar dela, que não chega de repente. Em resumo: a cheia mata mais rápido e a seca mais devagar. Isso leva à necessidade de um maior conhecimento e uma maior discussão sobre o uso do solo, de melhor utilização do planejamento, para evitar que as pessoas, por um lado, se arrisquem desnecessariamente, ocupando lugares onde o risco é recorrente, e por outro evitar que as pessoas venham a sofrer em lugares que embora o risco não seja tão recorrente, determinados fenômenos podem ocorrer em períodos mais longos de tempo. Este ano foi um exemplo. Tivemos vários eventos críticos ocorridos com as cheias.
Mas as discussões sobre água geralmente envolvem a seca.
Marcos – De fato. Não tem sido tanto discutido o tema das mortes. Afora as perdas humanas, as enchentes provocam também perdas econômico-financeiras importantes.
Entre nós temos algumas bacias simbólicas, que já sofrem com as cheias há muito tempo. Temos o Vale do Itajaí, que tem um tempo de resposta muito rápido. Sabe-se que a Oktoberfest, de Blumenau, nasceu por causa de um evento crítico. A Oktoberfest foi criada na década de 80 com a intenção de arrecadar fundos para socorrer famílias vítimas das enchentes.
Como enfrentar esse problema?
Marcos – Existem duas posições. A primeira são medidas estruturais, tais como barramentos, alteração da ocupação das margens e reflorestamento, entre outras.
São Paulo apresenta o exemplo mais duro de convivência com o problema das enchentes. Buscou-se a solução dos piscinões, medida estrutural destinada a reter a água durante algum tempo e não deixar correr tudo para os bairros, que hoje estão completamente impermeabilizados.
O problema, hoje, é que os piscinões estão poluídos, porque diversos resíduos sólidos foram parar dentro deles. Nas cheias, a avalanche leva para os piscinões cadeiras, fogões, bichos mortos, móveis, plásticos etc. Hoje, a grande discussão é saber como limpar os piscinões, para evitar que a poluição possa afetar a saúde da população. De qualquer forma, é uma medida estrutural, que apresentou seu resultado.
E mais: há uma discussão no mundo sobre o encaixotamento dos canais, ou seja, toma-se um rio e o transforma em trechos artificiais, canais retinhos, concretados de um lado e de outro. Num primeiro momento, a engenharia sugeriu essa solução como forma de resolver o problema das cheias. Com a experiência negativa, hoje estamos voltando à moda antiga, de deixar os meandros, manter pedras etc. de maneira a manter a velocidade baixa da água.
E em relação às medidas não-estruturais?
Marcos – São os sistemas hidrológicos de alerta. Tem resposta mais rápida. A subida do rio é acompanhada de perto, com informações automáticas, que podem ser monitoradas de minuto a minuto. A informação que é transmitida via satélite, telefone celular para um sistema que possa ser acionado com rapidez. Com isso, as pessoas sabem que à medida que o nível do rio chegou num determinado ponto, à montante, elas têm que se prevenir à jusante. Tanto na bacia do Itajaí, quanto na bacia do rio Doce, esses sistemas existem e foram montados há alguns anos com enorme participação da população.
Qual o órgão que cuida disso?
Marcos – Na ponta da linha, a Defesa Civil. Na hora que vem a enchente, socorrer as pessoas, estruturar as prefeituras para que elas possam ter respostas rápidas e eficazes.
Do ponto de vista nacional, temos as previsões hidrológicas que têm que ser feitas em todos esses sistemas. Aí a responsabilidade de manter a informação hidrológica organizada, para que as pessoas possam tomar as decisões acertadas, envolvem a ANA, os organismos gestores estaduais e os comitês de bacia.
O comitê entraria mais na fase do planejamento, para evitar a ocupação do solo de maneira errada, de sugerir sistemas de alerta mais adequados. Contudo, ainda não temos histórico de comitês de bacia operando sistemas de alerta. Os sistemas de alerta, tanto do Itajaí como do rio Doce, que são os mais estruturados, são operados mediante ação compartilhada de órgãos federais, estaduais e municipais.
O do rio Doce, que é um sistema de alerta que foi montado pela Aneel a partir de 1998, junto com o Instituto de Gestão das Águas Mineiras, – Igam – conseguiu resolver muitos problemas. Não houve mais mortes no rio Doce, porque um dos grandes problemas, é que as pessoas ficavam no local na hora que o rio estava subindo. O que ocorreu foi uma cooperação entre os órgãos que são responsáveis por medir água, no caso, primeiro a Aneel/Igam, depois a ANA/Igam, com as empresas geradoras de energia hidrelétrica da região, que, conforme o caso, podem reter um pouco mais a água.
Esses órgãos “falam” com a Defesa Civil?
Marcos – Todas as informações colhidas são repassadas para a Defesa Civil, que passa então a atuar, organizando a população e retirando-a das áreas de risco.
Existem outros sistemas que são mais macros. Na Bacia do Prata, que abrange o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, existe um sistema de alerta que é montado para prevenir as populações que estão rio abaixo, especialmente a Argentina e o Uruguai. Esse sistema de alerta que é montado com a participação do Brasil, passa informação àqueles países praticamente hora a hora, principalmente nos anos do El Niño.
Com a construção de grandes hidrelétricas na Bacia do Paraná, os nossos históricos de enchente rio abaixo diminuíram, face à maior capacidade de retenção de água. De qualquer maneira, há uma necessidade cada vez maior de integração entre os operadores de obras hidráulicas e os outros diversos usuários da água para que a operação das hidrelétricas já preveja possíveis enchentes.
Na década de 70, quando se decidiu construir Itaipu, os argentinos temiam que seu território fosse alvo de inundações…
Marcos – Pois é, hoje, os argentinos estão convencidos de que, quando eles têm enchentes, as águas não saem do lado brasileiro.
Como os dados estão bem monitorados, muitos do conhecimento público, não há possibilidade de equívocos. Nos anos mais delicados, de grandes enchentes, somos procurados pela embaixada da Argentina, preocupados sobretudo em ter acesso às informações. Há uma demanda dos argentinos para terem acesso às previsões de operação das hidrelétricas, o que envolve uma negociação às vezes delicada, porque o Brasil não aceita a tese da consulta prévia. É como se fosse preciso consultar a Argentina antes de operar Itaipu. Isso não é assim. O que estamos tentando flexibilizar é que a informação da previsão de como vai ser operada a hidrelétrica seja passada sem restrição.
Quando as águas do rio Paraná começam a subir já é um claro aviso de que é preciso tomar providências …
Marcos – Mas além da bacia do rio Paraná, há outras sub-bacias que não estão diretamente ligadas ao Paraná, mas que fazem parte da bacia do Prata mais expandida ou mais concentrada.
Na bacia do rio Uruguai, por exemplo, temos problemas com o Uruguai, no rio Quaraí, sendo necessário manter um acompanhamento um pouco mais delicado, pois não temos muitas barragens para regurar a água naquela região. A informação, desse modo, é sempre uma maneira de proteger quem está operando as obras hidráulicas.
Muitas vezes há outros rios que correm depois das hidrelétricas, e se imagina que foi a hidrelétrica que liberou água em excesso, quando não é verdade. Tivemos um caso parecido na região do rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Os arrozeiros perderam uma safra, em 1999, e acusaram uma hidrelétrica. Implantado um monitoramento na região, verificou-se que havia um pequeno riacho depois da hidrelétrica, que no período de chuvas produzia grandes enchentes, afetando os arrozais. Antes dessa descoberta, já se discutia como fazer a indenização dos prejuízos dos plantadores de arroz de Jacuí.
É possível prevenir ou remediar eventos extremos na Amazônia?
Marcos – Estamos estudando como trabalhar na Amazônia para ter um sistema mais organizado. Na Amazônia brasileira o tempo de subida da água é lento, o que resulta em um sistema de monitoramento mais fácil. No futuro deverá haver uma maior integração das previsões hidrológicas com as metereológicas. Prevendo-se a entrada da chuva com maior tempo, será possível passar o alerta, que em média vai de seis a 12 horas nessas bacias porque o tempo de resposta delas é rápido, para um tempo de alerta superior a 24 horas.
No caso do rio Doce já é possível uma integração com as previsões metereológicas. Na bacia do Prata há uma demanda dos países para essa integração. Se o Brasil consegue fazer sua previsão junto com a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, isso evitará que cada um tenha um diagnóstico diferente.
Assim como nós somos águas acima, nós somos frente fria abaixo. A frente fria vem de lá para cá. Portanto, eles sofrem primeiro os efeitos da frente fria. É um sistema interessante, pois vai lá e volta. Se a gente consegue a informação deles, é possível nos organizar melhor.
E as ações relativas às secas?
Marcos – A seca é um tema menos letal. Para o Brasil, as informações de forma mais articulada têm sido geradas pelo Inmet e pelo Inpe, em cooperação com o Ministério da Integração.
Há um certo acompanhamento da umidade do solo. O fato é que o fenômeno da seca só vai manifestar-se com intensidade na região, três ou quatro meses após a estação das chuvas. Não há, portanto, necessidade de alertas imediatos. É possível montá-los com prazos maiores. Nas secas há também medidas estruturais e outras não-estruturais. As estruturais abrangem a construção de cisternas e reservatórios que garantem o abastecimento de água durante um bom tempo do período sem chuvas. É claro que a cisterna não resolve todo o problema da oferta de água. Mesmo que a cisterna guarde 16 mil litros de água, é insuficiente para atender, por um período de até oito meses, as necessidades básicas uma família de cinco pessoas.
Como a ANA pode entrar nessa grande questão chamada Plano Diretor das Cidades?
Marcos – Eu diria que há um ponto de contato com o Plano de Bacia. Nas áreas onde ainda não há cidades gigantescas, os planos diretores já levam em consideração as zonas de inundação. É o caso, por exemplo, das cidades do vale do Itajaí, em Santa Catarina. Já foi mapeado até onde a água vai em diversos eventos e as pessoas hoje já conseguem entender onde podem e onde não podem ocupar. Na bacia do rio Doce, em Governador Valadares, começamos um trabalho que ainda não está concluído, mas que já conta com um mapa de enchentes, com a indicação das áreas vulneráveis. Com esse mapa é possível estabelecer uma relação com os planos diretores. Contudo, a cartografia nacional precisa ser atualizada, estamos digitalizando mapas antigos. Se há recursos da ordem de meio bilhão de reais ou até mais para a realização do censo demográfico, não se justifica que, a pretexto de insuficiência de recursos, não se atualize a cartografia do país.
Para refazer essa cartorafia, não se gastaria mais do que 200 milhões de reais. Pode ser muito dinheiro, mas esse levantamento só seria repetido dentro de dez a vinte anos. Hoje, quando se fala em IBGE, verifica-se que o G, de geografia, há muitos anos foi engolido pelo E, de estatística. A estatística é muito mais forte do que a geografia. Quando o presidente do IBGE faz uma exposição de suas metas, fala uma hora sobre estatística e cinco minutos sobre geografia. Não estou defendendo a diminuição da importância da estatística, mas acho que é necessária uma atualização dos dados cartográficos, que para nós da área de águas é fundamental, até como forma de fazer uma boa divisão das diversas bacias. O uso do solo mudou com o tempo. E como o Brasil tem 80% da população em áreas urbanas, precisamos ter um mapeamento atualizado, para permitir fazer os mapas de vulnerabilidade.
A regulação do uso da água pode trazer alguma contribuição à solução dos eventos críticos?
Marcos – Nos países desenvolvidos existe uma regulação que é relativa a seguros. Os seguros são muito importantes no primeiro mundo. Se você quer morar numa zona de inundação precisa pagar um seguro correspondente ao risco que está assumindo. Aqui, como não dispomos desse tipo de seguro, as pessoas não têm essa sensibilidade. Uma vez incluído o seguro na regulação da bacia, do comitê ou da outorga, é possível definir certas situações de risco, desde que haja um pacto federativo de trabalhar junto dentro de um plano diretor. Tem que ser uma ocupação negociada, de comum acordo, como foi feito no Vale do Itajaí.
Como está a regulação do uso da água hoje no Brasil?
Marcos – A regulação do uso da água no Brasil é feita através da lei 9.433, de 1997, que prega a descentralização e a formatação dos comitês – hoje, são mais de 90 comitês em processo de estruturação, já aprovados por decretos federais e estaduais. Só que, nosso pacto federativo é diferente do europeu. Estamos falando de mais de 5.500 entes federados no Brasil. Como se começa a trabalhar o recorte da bacia, dizendo que não é União, não é Estado, não é Município, mas sim uma bacia hidrográfica, não há dificuldade, do ponto de vista estritamente ambiental. Contudo, do ponto de vista de implementação do modelo, aí começam os problemas. Primeiro: a democracia brasileira é muito jovem. Estamos falando de 20 anos de democracia, pós período militar. Com 20 anos de democracia, as descentralizações e as negociações ocorrem ainda com alguma dificuldade, com instituições frágeis, enquanto se busca montar outras instituições que são as agências de bacia com os respectivos comitês. Em razão disso, há algumas dificuldades para a execução da lei, o que leva a não se registrar resultados efetivos na ponta da linha, embora reconhecendo que o modelo é muito recente e que vai demorar um bom tempo até calibrar. Acredito que existe um espaço muito grande para trabalhar, sem detrimento da regulação descentralizada, há necessidade de uma rediscussão da regulação de uso um pouco mais concentrada.
Como seria feita essa regulação?
Marcos – Explico: quase todo o recurso de que a ANA hoje dispõe para a gestão da água no País seja à nível da União, seja à nível dos sstados, vem de uma regulação centralizada. A Constituição decidiu que deveria se pagar pela exploração do recurso hídrico para fim do aproveitamento do potencial hidráulico. Isso gerou a compensação financeira e o royalty, posteriormente regulamentados pela lei 7.990, pela lei 8.001 e na lei de criação da ANA, que geram anualmente algo em torno de R$ 600 milhões para ressarcir o município, o Estado e a União pelo uso da água nas hidrelétricas.
Durante algum tempo a discussão foi: estamos pagando por área inundada. Mas não é bem assim.
O pagamento é pelo uso da água, pelo volume da água turbinada. Tanto que, quando se discutiu aumentar de 6% para 6,75% a compensação financeira para ter recursos para investir na ANA e nos comitês, não foi possível criar uma taxa nova. Foi preciso elevar a existente, para não constituir bitriputação. E a dificuldade de cobrança ia ser imensa. Então, essa regulação centralizada, gerou recursos para que o sistema começasse a ser implementado. Isso com o usuário da hidrelétrica.
Alguns Estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro aprovaram legislações estabelecendo que o dinheiro que recebem da compensação financeira do setor elétrico fosse utilizado na gestão do recurso hídrico. Não existe nenhuma obrigação que os Estados façam isso nem os Municípios. Mas os três fizeram. São Paulo criou o Fehidro, ou Fundo dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, montado com recursos oriundo da geração hidráulica. Com esse dinheiro é possível investir em comitês, pode-se montar planos de bacia, enfim, financiar a montagem do sistema.
E em relação aos outros usos?
Marcos – Quanto aos outros usos, imaginemos o caso que tem mais a ver com qualidade de água que é o setor petróleo. Esse setor, aparentemente não tem ligação com a água. Mas não é bem assim. Só a Petrobras, principal empresa do setor, tem gastos médios em meio ambiente da ordem de R$ 600 milhões por ano, para obtenção de licenças, para mitigação, reparação, evitar problemas como acidentes etc. Para discutir água e petróleo com a Petrobras e para convencê-los levei um exemplar da Folha do Meio Ambiente que publicou matéria sobre os principais crimes ambientais a partir da década de 70. E a maior parte desses impactos ambientais resultou de vazamento de óleo. Observando a cadeia do petróleo, verifica-se que o principal problema é como evitar o vazamento de óleo, com todas as suas conseqüências para o meio ambiente. Quando o vazamento ocorre no mar, pelo menos não tem problema grave com vidas humanas. Quando vaza nos rios, os riscos de impactos com vidas humanas são reais.
Pode-se ter um presidente da Petrobras que seja um excelente administrador, como o Reichstul, que produzia grandes lucros, mas era conhecido na Esplanada dos Ministérios como um azarado, porque na época de sua administração vazava óleo para todo lado.
Creio que há uma oportunidade de trabalho para desenvolver junto com o usuário de água, para evitar ou minimizar problemas como vazamento, poluição etc. A ANA dispõe de informação das bacias, dos pontos críticos dos rios, onde estão as dificuldades de diluição de poluentes, onde estão localizadas as estações de tratamento de água, onde as grandes cidades se abastecem etc. Se o vazamento vem depois da estação é um problema. Se o vazamento é antes da estação, o problema é outro, sem dúvida mais grave. Fora isso, as maiores refinarias que necessitam de um barril de água para cada barrril de petróleo refinado, se encontram em bacias com pouca água como a do Paraíba do Sul e do Piracicaba
Certamente isso exige muita atenção à regulação de uso.
Marcos – De fato, temos que estar atentos a essa regulação de uso, para que a atuação se faça em conjunto com os grandes setores de expansão da economia do País. E que esses setores não tenham a necessidade de ficar dependentes da contratação serviços externos para discutir o tema da água, quando essa discussão pode ser feita dentro do País, com a própria ANA, com a SRH e com outras instituições públicas federais e estaduais.
| Summary | |
Marcos Aurélio de Freitas – INTERVIEW Water is the cause of 90% of deaths in the world Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas (41) is very young for all of the degrees he has earned. In addition to a Masters degree in Nuclear Science and Engineer and Strategic Planning he holds a Doctorate in Environmental and Economic Science. He has been the director of Technology and Information at ANA since its founding. In this interview Marcos Freitas discusses water as a natural resource, which causes 90% of deaths in the world (flooding and drought), seeks a regulation regarding the use of water in Brazil and much more. Critical events is the topic that has been chosen by the United Nations to commemorate World Water Day in 2004. What does this mean? Marcos Aurélio Freitas is here to explain: There is a saying concerning water: “not too much or too little.” Do not wish for excess or shortage of water. This is what is referred to as critical events. Do not exceed that which the human population can consume. In the world, nearly 90% of deaths due to natural phenomena are related to water. This data is well worth knowing. Of this 90%, at least 80% is related to deaths caused by floods and the remaining 10% due to droughts. Therefore the natural phenomenon, which kills more people, is flooding. But this is not to say that droughts are not responsible for many deaths. The problem is that during a drought, people have time to flee from it; it does not just show up suddenly. In sum, flooding kills more quickly and drought more slowly. This leads to the need for greater knowledge and discussion of the use of soil and improved planning. How to deal with this problem? There are two positions. The first involves structural measures such as dams, changing habitation of the embankments and reforestation to name a few. The other involves non-structural measures such as hydrological system alerts. This is a faster response to this problem. The rising level of the river is closely monitored on the basis of automatic information, which can be checked from minute to minute. The information, which is transmitted via satellite and cellular telephone to a system, can be quickly activated. In the face of problems of this type we have civil defense and hydrological forecasts. At the head of the line we have civil defense, which rescues people in the event of a flood and helps structure municipal governments and enable quicker, more efficient responses. From a domestic point of view, we have hydrological forecasts which have to be made in all of these systems, which is why there is a responsibility to keep hydrological information organized. There are other systems, which are more macro in structure. In the Bacia do Prata, (Basin) which encompasses Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay and Bolivia there is an alert system, which has been implemented to prevent flooding of populations which are located downstream, especially in Argentina and Uruguay. This alert system, which has been set up with the participation of Brazil, sends information to those countries practically on an hourly basis, especially during El Niño years. Today Argentines are convinced that when they have floods the waters did not originate on the Brazilian side. Since the data are closely monitored and much of it is public knowledge, there is no room for error. During the more delicate years during the great floods we are sought out by the Argentine Embassy, which is worried most of all about gaining access to information. There is a demand on the part of the Argentines, to have access to hydroelectric operation forecasts, which can involve some diplomatic negotiations, because Brazil does not adhere to the prior consultation theory. It is as if it were necessary to consult Argentina prior to operating Itaipu. That is not the way it is. What we are trying to do is make forecasting information concerning hydroelectric operations flow without restrictions, making access more flexible. AMAZONIA We are studying how to work in the Amazon to enable a more organized system. In the Brazilian Amazon, the time it takes for the water to rise is slower, which results it easier for the system to monitor. In the future there will be greater integration of hydrological forecasting with that of the meteorologists. If we can predict coming rainfall with an earlier lead time, it will be possible to sound the alert, which on the average takes from 6 to 12 hours in these basins because the response time there is faster, for a 24-hour alert time. REGULATION AND CRITICAL EVENT In developed countries, there is a regulation related to insurance. Insurance is highly important in the first world. If you want to live in a flood zone, you must pay insurance, which is commensurate to the risk assumed. Since we do not have this type of insurance available here, people are not aware of the risk factors. Once insurance is included in the regulation of the basin, by committee or government organ, it will be possible to define certain risk situations, provided there is a federal agreement to work together within a master plan. Water use is regulated in Brazil under Law 9.433, de 1997, which provides for the decentralization and formation of committees – today there are over 90 committees in the process of being structured, which have already been approved by federal and state decrees. However, our federal agreement is different from that of Europe. We are talking about 5,500 federal agencies in Brazil | |
Entrevistas
CUBATÃO: Entrevista com Celma do Carmo de Souza Pinto
Em entrevista à Folha do Meio, Celma do Carmo de Souza Pinto fala sobre a paisagem de Cubatão e a história de uma cidade estigmatizada pela poluição.

Historiadora, pesquisadora, Doutora em Teoria, História e Crítica, pela Universidade de Brasília, Celma de Souza Pinto é profunda conhecedora da realidade do patrimônio industrial e da paisagem cultural brasileira. Celma do Souza é autora de três livros sobre a memória da industrialização na Baixada Santista: “Anilinas” – “Meu lugar no mundo: Cubatão” – “Cubatão, história de uma cidade industrial” e uma dissertação de mestrado “A construção da paisagem industrial de Cubatão – o caso da Companhia Fabril e da Usina Henry Borden”. É ex-servidora da Prefeitura Municipal de Cubatão e trabalhou por mais de 10 anos no IPHAN Sede, em Brasília. Atualmente dirige o Instituto Base no desenvolvimento de projetos culturais. Para Celma de Souza, mais do que resgatar a impactante história do desenvolvimento industrial de Cubatão é abrir possibilidades para novos olhares sobre a paisagem do município.
CELMA DO CARMO DE SOUZA PINTO – ENTREVISTA

“Somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem de Cubatão como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, de projetos educacionais, de lazer e da percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens”.
FOLHA DO MEIO – Cubatão era símbolo de poluição. Cidade estigmatizado pela poluição e com um dos maiores parques industriais do Brasil. Qual a relação com as paisagens culturais?
CELMA – Cubatão está inserido em um território com as marcas de eventos históricos desde o início da ocupação portuguesa pela sua localização entre o litoral e o Planalto Paulista. A partir de princípios de fins do século XIX, o município testemunha a evolução técnica e tecnológica do País, em suas obras de infraestrutura viária fabris e industriais. Isso somado, é claro, ao ambiente natural no qual se destacam a Serra do Mar, a Mata Atlântica e os manguezais típicos da região costeira. Por isso, Cubatão, além de ter um dos maiores parques industriais do Brasil abriga monumentos históricos como a Calçada do Lorena, o Caminho do Mar, antigos testemunhos fabris, de infraestrutura e várias reservas ambientais como o Parque Estadual da Serra do Mar. Todos esses elementos compõem e influenciam, direta ou indiretamente, a vida dos moradores do município, configurando uma paisagem cultural.
FMA – Sim, a paisagem é emblemática, o esforço de despoluição foi grande, mas Cubatão já tem esse reconhecimento?
CELMA – Verdade, a paisagem de Cubatão é uma das mais emblemáticas do Brasil pela imbricação de todos esses elementos somados aos problemas ambientais que manteve a atenção. Mas ainda não tem o reconhecimento que merece no âmbito cultural. Minha pesquisa “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.
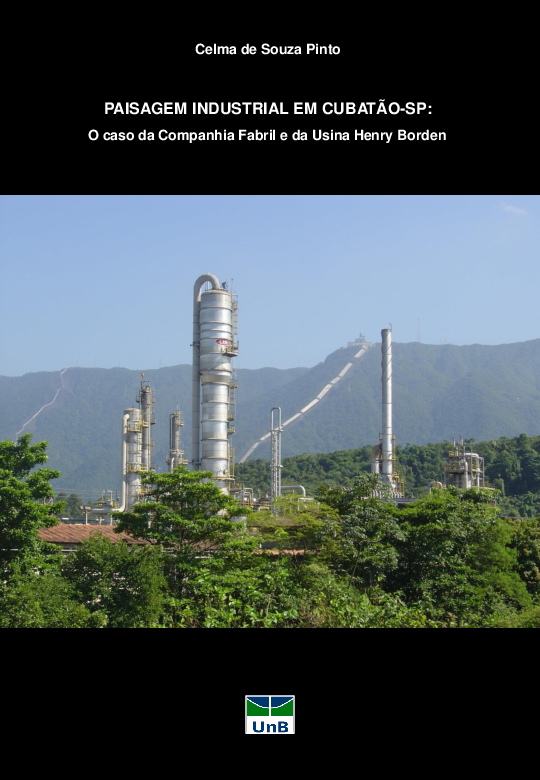
Celma de Souza Pinto: Paisagem industrial em Cubatão-SP: o caso da companhia fabril e da usina Henry Borden.
FMA – Mas, você poderia explicar melhor o que é uma paisagem cultural?
CELMA – O termo advém da geografia a partir da evolução dos estudos e da compreensão da noção de paisagem, que remonta ao século XIV no Ocidente. A Unesco, em 1994, inseriu a categoria de paisagem cultural em sua relação de bens culturais passíveis de serem declarados como Patrimônio Mundial. Paisagens culturais são as que foram afetadas, construídas ou resultantes do desenvolvimento humano e da sua ação e relação com a natureza. Como atualmente todo o planeta, e até o espaço sideral, é marcado pela ação humana, as paisagens culturais têm uma variedade muito grande. Tanto podem abarcar grandes territórios, quanto pequenas parcelas territoriais, como áreas industriais, locais de notável beleza, fazendas, jardins e outros. Isso abriu possibilidade para o reconhecimento e valorização também das paisagens industriais, como a de Cubatão, no campo do patrimônio cultural.
FMA – Quais os critérios para reconhecimento de uma paisagem cultural?
CELMA – Os critérios de reconhecimento de uma paisagem cultural variam conforme são estabelecidos pelos documentos de cada país, ou como definidos pela Unesco. No Brasil, por exemplo, a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, estabelecida pela Portaria IPHAN nº 127/2009, define a paisagem como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores”. Busca abranger a diversidade de lugares, costumes e paisagens brasileiras. O reconhecimento de uma paisagem cultural perpassa primeiro o Espaço, as pessoas que nele vivem ou interage.
FMA – Paisagem cultural é aquela constituída a partir da interferência humana na natureza…
CELMA – Sim, é o lugar onde se vive, o meio que reflete a interação entre as pessoas e a natureza. É o legado das culturas com o mundo natural, com o tempo: com os eventos do passado, a fruição do presente e as expectativas para o futuro, entre outros. As paisagens culturais são uma narrativa de expressões culturais e de identidade regional para grupos sociais, para comunidades e para a coletividade.
FMA – Então, qual a importância da paisagem de Cubatão?
CELMA – Aí que vamos chegar. A paisagem de Cubatão se distingue pelo forte caráter histórico, pela associação com o movimento de ocupação portuguesa desde o século XVII e pela vinculação ao processo industrial e de desenvolvimento técnico paulista e do Brasil, expresso nas vias de transporte já existentes antes da chegada do europeu e das construídas ao longo do tempo. Mas também ostenta um capítulo importante da história ambiental e do operariado brasileiro cuja memória está se perdendo e é parte fundamental da construção da paisagem que não se dá somente no município de Cubatão, mas em outros municípios da Baixada Santista, como Santos. Enfim, é uma região que ostenta uma paisagem plena de história e, ao mesmo tempo, dotada de uma beleza natural, cênica, ecológica, educacional, contemplativa, de lazer… em suma, um incomparável patrimônio cultural a ser conhecido, divulgado e desfrutado.
FMA – Com toda essa importância, por que pouco se fala da paisagem cultural de Cubatão?
CELMA – Não é bem assim. Na verdade, desde a década de 1980, muito se tem falado de Cubatão e da sua paisagem. Sobretudo quando houve uma massiva divulgação na mídia sobre os altos índices de poluição industrial. A partir de 1950, após a construção da Refinaria Presidente Bernardes, até a década de 1970, Cubatão recebeu mais de vinte indústrias de base na área da petroquímica e siderurgia, tornando-se um dos mais importantes complexos industriais do País. Como o Brasil ainda não dispunha de uma legislação ambiental, as indústrias foram instaladas sem o devido cuidado com emissão de poluentes no ar, na água e no solo. Tais consequências nefastas ao meio ambiente e à saúde humana, valeram à cidade a alcunha de Vale da Morte. Mesmo com o trabalho bem-sucedido da Cetesb no controle da poluição ambiental, a imagem negativa de Cubatão ficou no imaginário. Não queremos que essa história seja esquecida, apenas mostrar outros aspectos.
FMA – Como é a atual relação dos moradores de Cubatão com a chamada paisagem cultural?
CELMA – Boa questão. Em entrevistas que fiz com moradores de Cubatão, ficou evidente que consideram a paisagem como seu patrimônio cultural. Demonstraram também inquietação com a preservação dos testemunhos da industrialização e da infraestrutura. Eles se preocupam com a natureza, a Serra do Mar, que constitui o envoltório cênico que emoldura a cidade e é o elemento visual mais relevante da região. Mas eles se afligem com o descaso pelos remanescentes de antigas fábricas, pelos antigos caminhos e pela ferrovia. Também evidenciaram que, apesar da carência de políticas de preservação, educacionais, de lazer, entre outros, existe uma relação de identidade com a paisagem local e uma consciência sobre a necessidade de preservação dos testemunhos materiais remanescentes.
FMA – Por que é importante o reconhecimento dessa paisagem?
CELMA – Primeiro, porque somos humanos e a vida humana é inseparável da história, da natureza, do patrimônio. O reconhecimento da paisagem como bem cultural abre novas possibilidades de conhecimento, projetos educacionais, lazer e percepção da memória social. Vivemos dentro ou junto às paisagens. Nesse sentido, pode contribuir para que a cidade se torne mais humanizada com melhoria na qualidade de vida, proporcionando um sentido de lugar e de identidade às gerações futuras, assim como propiciar à comunidade uma melhor compreensão sobre o lugar onde vivem e a como buscar uma maior fruição dos testemunhos arquitetônicos e bens tombados da região. Além de possibilitar a novas atividades econômicas ligadas ao potencial histórico e paisagístico que insira a população local.
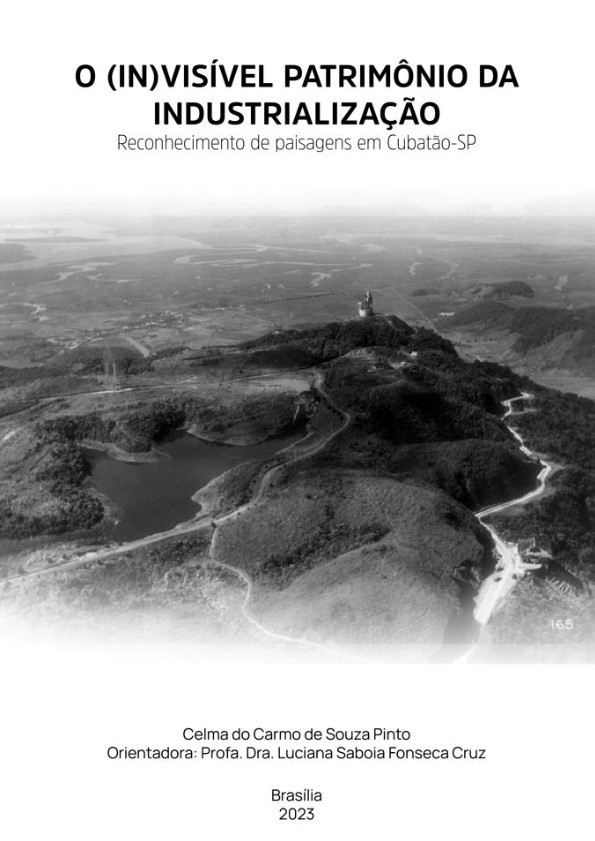
A pesquisa de Celma do Carmo, “O (In)visível patrimônio da industrialização – reconhecimento de paisagens em Cubatão”, procura rever essa paisagem, considerando seus paradoxos, defendendo a urgência de iniciativas para sua valorização e reconhecimento também pelos seus relevantes aspectos históricos, culturais, paisagísticos e até afetivos.
FMA – Como preservar os elementos arquitetônicos e outros que tornam essa paisagem tão importante?
CELMA – Para isso é imprescindível a atuação séria e isenta dos órgãos de preservação locais e estadual. A preservação do patrimônio cultural exige uma ação conjunta da população com o governo municipal não só no âmbito do patrimônio, mas também para desenvolvimento de projetos de valorização, reabilitação, revitalização ou mesmo requalificação urbana de sítios de valor histórico reconhecidos pela população, como por exemplo, a orla do rio Cubatão, que atravessa a cidade. Ou com a recuperação de locais degradados que remontam à história ferroviária na região. A paisagem pode ser também um meio para criação de mecanismos de reparação que pode incluir também a preservação da memória do trabalhador e fortalecimento da identidade local como museus, centros culturais, projetos educativos, enfim…
FMA – Fico imaginando o tamanho desse desafio: Cubatão está entre o maior complexo industrial do Brasil e o maior porto do Brasil?
CELMA – E põe desafio nisso. De fato, como Cubatão situa-se entre um complexo industrial e o Porto de Santos gera um desafio que é conciliar as necessidades de modernização desses setores com as aspirações da população, que almeja o indispensável respeito ao patrimônio cultural e à história. As paisagens estão em constante transformação. Quando relacionadas à indústria isso fica ainda mais evidente, pois a principal característica da indústria é o dinamismo por processos de mudança no modo de produção, de estruturação econômica, entre outros. Por isso é urgente a revisão do atual modelo de desenvolvimento excludente e pautado em projetos que atendem somente às necessidades industriais e portuárias, sem considerar os interesses dos moradores. Não é possível manter o conceito de desenvolvimento da década de 1950 no qual somente a ampliação industrial irá trazer benefícios para a cidade.
FMA – Mas o IDH de Cubatão é bem alto…
CELMA – É verdade. O IDH de Cubatão é bem alto, se comparado aos outros municípios da Baixada Santista. No entanto, os moradores não estão imunes aos mesmos problemas de seus vizinhos, cujo IDH e arrecadação tributária é perceptivelmente inferior. Donde se vê que o desenvolvimento e o progresso alardeados pela industrialização não se concretizaram. Então, fica claro que ali os efeitos negativos da industrialização se fazem sentir de modo muito mais adverso do que os benefícios.
A superação desses desafios exige, dentre outros, mecanismos de reconhecimento da paisagem, de forma conjunta com as propostas de gestão compartilhada, com apoio de todos os setores envolvidos e do poder público. Sem isso, é possível que em poucos anos a cidade de Cubatão desapareça como local de vida e convivência humana, vindo a se tornar um mero depósito de contêineres ou um grande pátio de estacionamento de caminhões. Não podemos esquecer que ali vivem pessoas.
Entrevistas
John Elkington: A Vanguarda da Sustentabilidade Empresarial e Global
Explorando a Vida e o Legado do Arquiteto da Tripla Linha de Base e Defensor Incansável da Responsabilidade Corporativa

Na arena global da sustentabilidade, poucos nomes ressoam com a mesma reverência que o de John Elkington. Conhecido como o arquiteto da “Tripla Linha de Base”, Elkington emergiu como um pioneiro na integração de preocupações ambientais, sociais e financeiras no mundo dos negócios. Sua jornada como defensor incansável de práticas sustentáveis e responsáveis é um testemunho vivo de sua influência e impacto duradouro.
As Raízes da Visão de Elkington
Nascido com uma consciência intrínseca do poder transformador da sustentabilidade, John Elkington começou sua jornada na Universidade de Londres, onde se formou em Economia e Estudos de Engenharia. Desde o início, seu interesse abrangente pelas interseções entre o mundo dos negócios e as questões ambientais e sociais o levou a explorar novos paradigmas de desenvolvimento econômico que priorizassem não apenas o lucro, mas também o bem-estar coletivo.
A Tripla Linha de Base e Seu Legado Duradouro
É inegável que o maior legado de John Elkington é a popularização do conceito de “Tripla Linha de Base”. Sua inovadora abordagem de avaliação de desempenho empresarial não apenas com base em lucros financeiros, mas também em impactos ambientais e sociais, foi revolucionária. Essa estrutura conceitual permitiu que as empresas repensassem suas práticas e redefinissem o sucesso empresarial, levando em consideração não apenas os resultados financeiros, mas também o impacto em comunidades e ecossistemas.
O Compromisso Contínuo com a Mudança Sistêmica
Além de suas contribuições teóricas, Elkington é conhecido por seu compromisso contínuo com a mudança sistêmica. Ele trabalhou incansavelmente para influenciar políticas e práticas corporativas, promovendo a sustentabilidade como um imperativo central para o crescimento econômico e o bem-estar social. Sua atuação como autor prolífico e palestrante renomado ampliou ainda mais o alcance de suas ideias e inspirou uma geração de líderes a repensar o papel das empresas na sociedade.
O Legado Duradouro e o Caminho à Frente
À medida que o mundo enfrenta desafios cada vez mais complexos, o legado de Elkington permanece como um farol de esperança e um lembrete constante de que a sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente. Sua visão e dedicação incansável continuam a orientar não apenas empresas, mas também formuladores de políticas e defensores da sustentabilidade em direção a um futuro mais equitativo e próspero.
John Elkington personifica a noção de que a sustentabilidade não é apenas um conceito acadêmico, mas uma filosofia de vida e uma abordagem essencial para moldar um mundo mais resiliente e sustentável. Sua jornada continua a inspirar e a moldar a narrativa global da responsabilidade empresarial e do ativismo sustentável.
Entrevista
John Elkington: Bem, ao longo das últimas décadas, testemunhamos um crescente reconhecimento da importância da sustentabilidade, tanto a nível empresarial quanto global. As empresas estão percebendo que devem abordar não apenas suas operações, mas também sua cadeia de suprimentos e impacto social. Vemos um movimento contínuo em direção a práticas mais responsáveis e transparentes, mas ainda há muito trabalho a ser feito.
Com certeza. Quais são os principais desafios que você identifica atualmente em termos de implementação de práticas sustentáveis em larga escala?
John Elkington: Um dos principais desafios é a integração da sustentabilidade no cerne dos modelos de negócios. Muitas empresas ainda veem a sustentabilidade como uma iniciativa isolada, em vez de uma parte fundamental de sua estratégia. Além disso, a falta de regulamentações e políticas sólidas em muitas partes do mundo dificulta a adoção generalizada de práticas sustentáveis. Também é fundamental envolver os consumidores e criar uma demanda por produtos e serviços mais sustentáveis.
Concordo plenamente. Considerando o cenário atual, como você visualiza a importância da inovação e da tecnologia na promoção da sustentabilidade?
John Elkington: A inovação e a tecnologia desempenham um papel crucial na transição para práticas mais sustentáveis. Novas tecnologias podem aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e permitir o uso mais inteligente dos recursos. Da energia renovável aos avanços na agricultura sustentável e na gestão de resíduos, a tecnologia tem o potencial de impulsionar mudanças positivas significativas. No entanto, é importante garantir que essas inovações sejam acessíveis e amplamente adotadas, especialmente em comunidades com recursos limitados.
Definitivamente. Quais conselhos você daria para os líderes empresariais e os formuladores de políticas que desejam impulsionar práticas mais sustentáveis?
John Elkington: Para os líderes empresariais, eu enfatizaria a importância de incorporar a sustentabilidade em toda a cadeia de valor, desde a concepção do produto até o descarte responsável. Isso não apenas beneficia o planeta, mas também pode gerar eficiências operacionais e melhorar a reputação da marca. Para os formuladores de políticas, é fundamental criar um ambiente regulatório favorável e incentivar a inovação e o investimento em práticas sustentáveis. Além disso, é crucial promover a conscientização e a educação sobre a importância da sustentabilidade em todas as esferas da sociedade.
Entrevistas
Kátia Queiroz Fenyves fala a respeito de sustentabilidade e meio ambiente

Kátia Fenyves é Mestre em Políticas Públicas e Governança pela Sciences Po Paris e formada em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Ao longo de sua trajetória profissional, acumulou experiências em cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável no terceiro setor e na filantropia. Atualmente é Gerente do Programa de Finanças Verdes da Missão Diplomática do Reino Unido no Brasil.
1. Você estudou e tem trabalhado com a questão de sustentabilidade e o meio ambiente. Pode nos falar um pouco a respeito desses temas?
Meio ambiente é um tema basilar. Toda a vida do planeta depende de seu equilíbrio. A economia, da mesma forma, só se sustenta a partir dos recursos naturais e de como são utilizados. Sustentabilidade, portanto, foi o conceito que integrou as considerações aos aspectos ambientais, sociais e econômicos, revelando de forma mais sistêmica esta inter-relação e, sobretudo, colocando o meio ambiente como eixo estratégico do desenvolvimento, para além de seu valor intrínseco.
2. Quando se fala em sustentabilidade, pensa-se no tripé social, ambiental e econômico. Como você definiria esses princípios? Qual deles merece maior atenção, ou todos são interligados e afetam nossa qualidade de vida integralmente?
Exatamente, sustentabilidade é o conceito que revela as interligações entre os três pilares – social, ambiental e econômico e, portanto, são princípios interdependentes e insuficientes se tomados individualmente. Talvez, o ambiental seja realmente o único que escapa a isso. A natureza não depende da economia ou da sociedade para subsistir, mas, por outro lado, é impactada por ambos. Por isso, sustentabilidade é um conceito antrópico, ou seja, é uma noção que tem como referencial a presença humana no planeta.
3. Questões relacionadas à sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente são discutidas nas escolas e universidades?
Há entre as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, que são normas obrigatórias, as específicas para Educação Ambiental que devem ser observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior a partir da Política Nacional de Educação Ambiental. Estas contemplam todos os temas citados na pergunta. Não sou especialista na área então é mais difícil avaliar a implementação, mas em termos de marco institucional o Brasil está bem posicionado.
4. Quando se fala em preservação do meio ambiente, pensa-se também nos modelos de descarte que causam tantos danos ao meio ambiente. Existe alguma política de incentivo ao descarte consciente?
Mais uma vez, o Brasil tem um marco legal bastante consistente para o incentivo ao descarte consciente que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que é inclusive uma referência internacionalmente. Na verdade, mais que um incentivo ela é um desincentivo ao descarte inconsciente por meio do estabelecimento da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. Isso significa que a PNRS obriga as empresas a aceitarem o retorno de seus produtos descartados, além de as responsabilizar pelo destino ambientalmente adequado destes. A inovação fica sobretudo na inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis tanto na logística reversa como na coleta seletiva, algo essencial para um país com nosso contexto social.
5. Você acha que os modelos de descarte atuais serão substituídos por novos modelos no pós-pandemia? O que fazer, por exemplo, para incentivar as pessoas a descartar de forma consciente as máscaras antivírus?
Sempre é preciso se repensar e certamente a pandemia deu destaque a certas fragilidades da implementação da PNRS. Grande parte dos hospitais brasileiros ainda não praticam efetivamente a separação e adequada destinação de seus resíduos e, na pandemia, este problema é agravado tanto pela maior quantidade de resíduos de serviços de saúde gerados como por uma maior quantidade de geradores, uma vez que a população também começa a produzir este tipo de resíduo em escala. Falta ainda muita circulação da informação, então talvez este seja o primeiro passo: uma campanha de conscientização séria que jogue luz nesta questão.
6. Na sua opinião, o mundo está mais consciente das necessidades de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais para que gerações futuras possam deles usufruir?
Acredito que tenhamos passado do ponto em que estas necessidades de preservação eram uma questão de consciência e chegamos a um patamar de sobrevivência. Também não se trata apenas das gerações futuras, já estamos sofrendo as consequências do desequilíbrio ambiental provocado pela ação humana e do esgotamento dos recursos naturais desde já. A própria pandemia é resultado de relações danosas entre o ser humano e o meio ambiente e os conflitos por fontes de água, por exemplo, são uma realidade.
7. Quais as ações que mais comprometem e degradam o meio ambiente?
Nosso modelo produtivo e de consumo como um todo é baseado em uma relação predatória com o meio ambiente: retiramos mais do que necessitamos, sem respeitar os ciclos naturais de reposição e, além disso, quando descartamos os resíduos e rejeitos não cumprimos com os padrões adequados estabelecidos. Já temos conhecimento suficiente para evitar grande parte dos problemas, mas ainda não conseguimos integrá-lo nas nossas práticas efetiva e definitivamente.
8. O que na sua opinião precisa ser feito para que as sociedades conheçam mais a respeito de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e consumo consciente?
Acredito que para avançarmos como sociedade precisamos tratar a questão das desigualdades socioeconômicas que estão intrinsicamente relacionadas a desigualdades ambientais, inclusive no que diz respeito às informações, ao conhecimento. A educação é, portanto, um componente estratégico para este avanço, mas é preciso ter um entendimento amplo que traga também os saberes tradicionais para esta equação. Além disso é preciso cada dia mais abordar o tema da perspectiva das oportunidades, pois a transição para modos de vida mais sustentáveis, que preservam o meio ambiente e que se baseiem em consumo conscientes alavancam inúmeras delas; por exemplo, um maior potencial de geração de empregos de qualidade e menos gastos com saúde.
9. A questão climática está relacionada com a sustentabilidade? Como?
A mudança do clima intensificada pela ação antrópica tem relação com nossos padrões de produção e consumo em desequilíbrio com o meio ambiente: por um lado, vimos emitindo uma quantidade de gases de efeito estufa muito significativa e, por outro, vimos degradando ecossistemas que absorvem estes gases, diminuindo a capacidade natural do planeta de equilibrar as emissões. Assim, a questão climática está relacionada com um modo de vida insustentável. A notícia boa é que práticas sustentáveis geram diretamente um impacto positivo no equilíbrio climático do planeta. Por exemplo, o Brasil tem potencial para gerar mais de 25 mil gigawatts em energia solar, aproveitando sua excelente localização geográfica com abundância de luz solar, uma medida sustentável que, ao mesmo tempo, é considerada uma das melhores alternativas para a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera, que é um dos principais gases intensificadores do efeito estufa.
-

 Reportagens4 meses ago
Reportagens4 meses agoProjeto Comunicador do Futuro oferece cursos de comunicação e audiovisual
-

 Reportagens3 meses ago
Reportagens3 meses agoGDF projeta mais quatro hospitais e 17 UBSs até 2026
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoO MITO QUE VIROU LENDA
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoLa Boulangerie em Brasília: A Doce Jornada do Padeiro Francês
-

 Reportagens4 meses ago
Reportagens4 meses agoDetran-DF realizará leilão de veículos e sucatas
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoMau Tempo Paralisa Aeroporto de Brasília, que Opera por Instrumentos
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoELISEU ROBERTO DE ANDRADE ALVES
-

 Artigos4 meses ago
Artigos4 meses agoA mensagem de Natal de JK

